Há um projeto não declarado de silenciar a Amazônia, diz Márcio Souza

Para o escritor, uma política de atraso historicamente imposta à região causa impactos à conservação da natureza e à cultura.
Embates entre o que é moderno e o que é atrasado ainda guiam as discussões sobre desenvolvimento na Amazônia. Não é por acaso que o presidente Bolsonaro (PL) e sua base de deputados e senadores se apoiam na retórica do progresso para patrocinar projetos de lei que liberam mineração em terras indígenas, estradas em plena floresta e que legalizam terras públicas ocupadas por grileiros.
A dualidade entre modernidade e atraso não é fruto do acaso, mas foi cultivada pelos poderes do Brasil ao longo da história, avalia o escritor, dramaturgo, roteirista e jornalista manauara Márcio Souza em entrevista à Amazônia Latitude.
Esse tipo de ação deliberada foi visto no trágico fim do Grão-Pará, projeto do Regente Feijó e seus herdeiros. “A destruição do Grão-Pará ditou o destino do Brasil”, argumenta Souza. “Foi a Guerra da Secessão que nós merecemos”.
“No Norte avançado, havia economia industrial, pequenas propriedades sem escravos no Rio Negro, a introdução do café, a indústria naval, a exportação de vários produtos da selva, a borracha. E, enquanto isso, o vice-reino do Brasil era o mundo rural, escravocrata, atrasado”.
A ignorância do Sul em relação ao Norte não acabou com Feijó. Na visão de Souza, há um pacto de silêncio em relação ao que importa no conhecimento da Amazônia feito pelos sulistas. “Há uma espécie de apartheid cultural no Brasil entre o Sul, metrópole, culturalmente avançado, e o Norte atrasado, visto mais como natureza do que como cultura”, critica.
Uma das principais preocupações do escritor é que a ideia de “progresso” destrua a episteme amazônica e a estrutura cultural profunda da região, já que “a modernidade conduzida pelo sul do país já se inicia na categoria da perseguição e assassinato das populações nativas”.
Para Souza, ver a Amazônia como atrasada “é uma atitude burra porque você não tem a menor ideia do que se está destruindo”. “Se se derruba uma área inteira que nunca foi visitada, que só os povos indígenas conhecem, estamos jogando fora uma riqueza inacreditável. Quando desaparece uma etnia, a humanidade perde um pedaço da sua própria humanidade”, continua.
Nesta entrevista, Souza explica sobre suas experiências pessoais durante a ditadura e sobre como os projetos para a região são gerados em gabinetes com ar refrigerado em Brasília. Ele alerta que a Amazônia não é eterna: “Não podemos confiar que a Amazônia vai resistir só porque é grande”.
Você escreveu um livro recentemente. Do que se trata “História da Amazônia: do período pré-colombiano aos desafios do século XXI”, lançado em 2019 pela editora Record?
Quando dei aula em Austin, no Texas, fui convidado a preparar um curso de literatura brasileira contemporânea. Eles tinham um arquivo fantástico sobre a Amazônia, onde comecei as pesquisas que resultariam no “História da Amazônia”. Tive muito cuidado para não fazer um livro gigantesco, que é complicado para os leitores e pelo preço do livro aqui no Brasil. Estive em Gainesville, na Flórida, onde há também um arquivo extraordinário com outro viés sobre a Amazônia. Pesquisei no Museu Britânico e na Biblioteca Nacional de Paris. Tenho uma coleção de iconografia sobre a Amazônia coletada em Paris. Mesmo achando que era insuficiente, decidi fazer uma coisa mais sintética e palatável, porque não se dirigia só para a academia. Eu queria algo especialmente para os estudantes e leitores aqui do Amazonas e da região. De fato, acho que consegui. A primeira edição de 15 mil exemplares esgotou. Ela tem sido adotada, curiosamente, mais fora do Amazonas do que aqui. A Universidade Federal do Amazonas ficou muda. Percebi isso há dois anos na última Feira do Livro que eu fui em Petrópolis. Muitos estudantes tanto das Faculdades de Petrópolis como da UFRJ e da Unirio tinham lido o livro e participaram ativamente no meu debate. Não é um livro de grande retórica ou teorias. É um livro que narra mais o processo histórico.
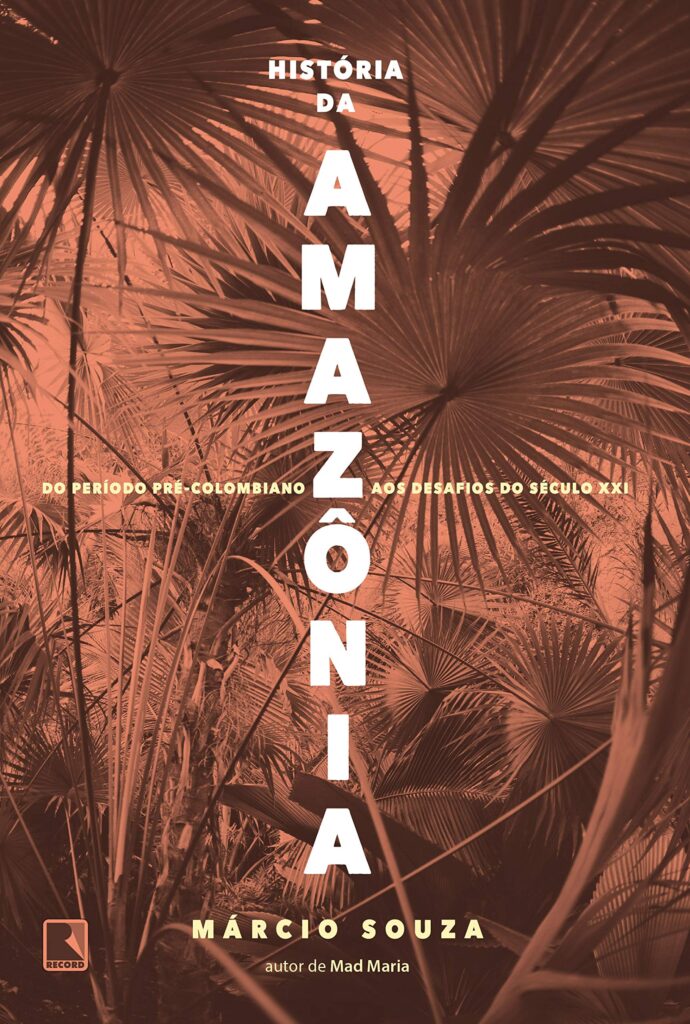
Capa do livro História da Amazônia: do período pré-colombiano aos desafios do século XXI
O livro é instrumental para aqueles que estão iniciando nos estudos da Amazônia. Você acha que é ele que dialoga com o momento de crise ambiental em que vivemos na região hoje?
Sim, porque apresenta muitos problemas que não eram tão agudos como hoje. O livro foi escrito antes do Bolsonaro e da chegada da extrema-direita-nazifascista que assola muitos países. A acuidade do texto eu devo à minha formação de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP), que, na época, era a mais importante universidade da América do Sul e tinha um plantel de professores de primeiríssima categoria. Foram todos aposentados pela ditadura militar no último ano em que eu estava cursando. Mas isso não prejudicou a nossa formação. Eu, por exemplo, nunca me graduei, porque incendiaram a nossa faculdade. E no campus, quem pegava ônibus era parado pelo exército, obrigado a descer, deitar, de preferência, no chão enlameado. Chegou um momento em que ficou perigoso ser aluno de Ciências Sociais. Eu não conseguia mais emprego em São Paulo. Voltei para Manaus, semi-graduado.
Logo depois que caiu a ditadura, o professor Fernando Henrique Cardoso voltou do exílio no Chile e assumiu o departamento. Ele ligou para vários colegas que não tinham feito a graduação, inclusive para mim, perguntando se eu queria prestar um exame lá, e ele me concederia o título de licenciatura. Já expliquei “não, professor, a essas alturas eu já sou escritor, não corro o risco de ganhar a licenciatura e virar funcionário da Sudam [Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia]. Não estou interessado.” Ele riu muito e não insistiu mais. Eu devo muito ao que eu aprendi no curso de Ciências Sociais da USP.
De que maneira os traumas vividos pela população amazônica na anexação do Grão-Pará ao Brasil refletem nas questões de hoje?
A destruição do Grão-Pará foi uma destruição severa feita pelo Império do Brasil. Talvez o último bandeirante da história do Brasil seja o Regente Feijó, que, segundo o escritor Osvaldo Orico, era o demônio da democracia. O Regente Feijó foi o maior inimigo do Grão-Pará; ele que provocou o conflito. Infelizmente, nós sofremos dois problemas graves. Primeiro, a morte do cônego Batista Campos, que era um grande político, um homem culto. Perdendo o cônego Batista Campos, as lideranças do Grão-Pará foram assumidas por jovens que gostavam mais de briga do que de política. E o segundo problema foi que o Regente Feijó deixou herdeiros. Os paulistas não entendem de Brasil. “Regente Feijó? Quem era esse cara?” Era um caipira que falava “porrrta”, era um caipira que não entendia da capital.
Sempre brinco que o que ocorreu no Brasil com a destruição do Grão-Pará foi a Guerra da Secessão que nós merecemos. No Norte avançado, que era o Grão-Pará, havia economia industrial, pequenas propriedades sem escravos no Rio Negro, a introdução do café, a indústria naval, a exportação de vários produtos da selva, a borracha. E, enquanto isso, o vice-rei do Brasil era o mundo rural, escravocrata, atrasado, cujo único momento foi a tentativa daqueles intelectuais de Ouro Preto mudar a estrutura do extrativismo do ouro e da pecuária e acabaram todos sendo decretados presos, e o Tiradentes enforcado. A destruição do Grão-Pará ditou o destino do Brasil. Imagine se o Norte perdesse a guerra para o Sul nos Estados Unidos. O Brasil é o retrato do que poderia ser os Estados Unidos se isso tivesse acontecido.
Como podemos definir esses embates entre o atraso e a modernidade na Amazônia?
É o dilema latinoamericano a questão da modernidade e atraso. No caso da Amazônia, essa dualidade é cultivada pelos poderes do Brasil. A questão da modernidade e atraso já começa na categoria da perseguição e assassinato das populações nativas. Modernos aqui são os povos indígenas, são as etnias. Modernos no sentido de que eles têm o mais profundo conhecimento do bioma e da natureza amazônica. Eles viveram milênios aqui na região e cultivaram e mantiveram o bioma. Eles não provocaram nenhum desastre ecológico. Acho que não pode haver nada mais moderno que isso.
Há um esforço consciente e inconsciente para manter a região subdesenvolvida, para manter a região à margem, apesar do esforço dos professores das universidades regionais, apesar da excelência da Universidade Estadual do Amazonas. Isso aí é um esforço sobrehumano, mas esbarra, justamente, pela indiferença e pelos truques dos interesses sulistas em manter isso aqui numa área de pura exploração, desmatamento, a pecuária selvagem e a barbárie.
Que saída teríamos para repensar o valor desses povos que estão sendo vilipendiados e eliminados? Como é que podemos pensar em alternativas a essa engrenagem pseudo-desenvolvimentista?
Uma primeira aproximação a essa questão é fazer uma frente de pensadores, intelectuais, escritores, artistas e militantes, para mostrar que a atitude historicamente tomada pelo sul do Brasil em relação à Amazônia é burra, porque você não tem a menor ideia do que se está destruindo.
Por volta dos últimos 20 anos, um etnobotânico americano, que pesquisava na Costa do Marfim, localizou uma planta com os componentes que poderiam se transformar em beta-bloqueadores para tratamento de arritmia cardíaca. O etnobotânico enviou as amostras para a Universidade nos Estados Unidos e eles prepararam, mas não deu certo. Ele ficou muito frustrado, voltou e foi pesquisar na Amazônia peruana. Já com outros interesses, comentou com um pajé o que havia acontecido. O pajé pediu: “me descreva essa planta”. O etnobotânico descreveu e disse que a planta não fazia efeito. O pajé então disse: “Não, é que você não percebeu que o efeito é dado pelas formigas que estão em simbiose na raiz dessa planta”. E o levou no mato e mostrou como é que funcionava o processo. O etnobotânico envia novamente à Universidade nos Estados Unidos a proposta e hoje os beta-bloqueadores rendem bilhões à indústria farmacêutica internacional e salva muita gente de arritmia cardíaca.
Ora, se se derruba uma área inteira que nunca foi visitada, que só os povos indígenas conhecem, estamos jogando fora uma riqueza inacreditável. Quando desaparece uma etnia, a humanidade perde um pedaço da sua própria humanidade. Nesse momento o futuro da Amazônia é obscuro. Nós temos que derrotar esse governo e tentar uma nova investida na política brasileira. Efetivamente criar instituições poderosas e com recursos na área da pesquisa, antropologia, sociologia, botânica e das ciências naturais. Ampliar esse conhecimento e aprender com os pajés que são os grandes sábios.
Muito se fala sobre epistemicídio no Brasil. É um termo que explica o apagamento da versão não-europeizada da história do país. Seria o epistemicídio um dos motivos para o brasileiro desconhecer sua história não oficial?
Não podemos esquecer e apagar a importância da cultura européia na América Latina e, também, na Amazônia. Alguns europeus amalgamaram uma visão muito real da Amazônia. Muitas das tradições de povos já extintos chegaram até nós através desses autores. Se não fosse Stradelli, o Raul Bopp não teria escrito Cobra Norato, porque o Raul Bopp era gaúcho, veio para Manaus, nunca saiu de Manaus, mas ouviu as histórias contadas pelo Stradelli através dos seus escritos.
Eu me preocupo com a destruição do episteme amazônico, da estrutura cultural profunda da região amazônica. Mas isso não é da cultura europeia. O pacto de silêncio em relação ao que importa no conhecimento da Amazônia feito pelos sulistas. Por exemplo, eu sou romancista, escrevo contos, romances, etc. Mas houve um período – agora não ouvi mais – em que se fazia uma distinção entre literatura nacional e literatura provinciana. Literatura nacional era aquela escrita pelos paulistas, pelos sulistas, pelos cariocas. O que não é do Rio e São Paulo é folclore. A Amazônia não tem folclore, tem cultura. Aliás, eu sempre digo para mim “folclore é tudo aquilo que resta quando a polícia passa”. Ou seja, folclore é um produto da repressão que o povo recria para combater a alienação.
Há um projeto não declarado de reduzir ao silêncio a grande região amazônica. Eu pergunto: quantas vezes Vicente Salles foi lido e estudado na Universidade Federal do Rio de Janeiro? Os escritores do Pará e do Amazonas não são conhecidos. Temos excelentes editoras aqui na Amazônia, com livros de qualidade que não chegam às livrarias do Sul. Há uma espécie de apartheid cultural no Brasil entre o Sul, metrópole, culturalmente avançado, e o Norte atrasado, visto mais como natureza do que como cultura.
Aliás, essa é a chave: a cultura é do Sul, a natureza é do Norte. Como é natureza, é a terra da Mãe Joana. O cara pode chegar aqui com a motosserra e ir encerrando, que não tem consequências, especialmente atualmente em que a polícia de defesa do meio ambiente aqui é impedida de fazer o seu trabalho porque precisa vender madeira não certificada para meliantes de fora e daqui de dentro faturarem também.
Essa é a dicotomia que existe no Brasil. Já ficou consagrado que, do paralelo ali de Brasília, ocupando um paralelo bem maior pelo Nordeste, que é outra área atrasada para os sulistas, o resto é que tem a modernidade. Ora, a Semana de Arte Moderna, que faz aniversário em 2022, só existe porque descobriu a Amazônia. O universo oswaldiano, por exemplo, é todo inspirado nela.
Então, apesar de tudo, não adianta as divisões artificiais. A Amazônia é o universo nela mesma. Ela é grande demais, ela é maior que a ambição dos capitalistas cegos, de visão curta sobre o futuro e sobre até o dinheiro que eles jogam fora do Brasil destruindo extensões enormes de mata virgem, antes que os cientistas cheguem lá, antes que a gente possa ouvir os sábios que vivem na floresta, nas aldeias.
Então esse é o grande drama do Brasil, não tem unidade nacional. Uma das coisas fundamentais para que a democracia se torne uma realidade no Brasil é a unidade nacional que traga respeito pelo que eles consideram uma região atrasada, que é a Amazônia, lugar para a plantação de soja ou para cultivo de ouro ou a busca por terras raras para melhorar os telefones celulares.

O escritor Márcio Souza, que faz 76 anos no dia 4 de março. Foto: Matheus Dias
Como você vê essa invisibilidade desse genocídio aos povos indígenas em 2021, em plena Covid, como você observa esse momento tão delicado?
Não há mais nenhuma política de proteção ou de defesa das etnias, especialmente em alguns locais da região amazônica. A Amazônia é muito grande, mas tudo o que você não cuida, acaba. E tudo o que você tira de uma região e não repõe — porque tirar a madeira e não replantar no lugar — vai acabar em algum momento. Isso aqui vai virar um deserto. Não está mais chovendo no Sudeste com esse descalabro de dois anos e meio de governo Bolsonaro e de Ricardo Sales, aquele monstro, aquele Dorian Gray ao contrário. É uma coisa absurda o que aquele sujeito fazia, é um outro Regente Feijó em relação à Amazônia.
Não vamos confiar que a Amazônia é grande demais para resistir. Nós já temos exemplos na história do mundo de regiões que foram agredidas de tal forma que, ali, nem a grama cresce mais. A nossa situação hoje é drástica, é terrível. É uma situação na Amazônia que exige medidas urgentes. A primeira coisa a se fazer é derrotar esse status quo hoje, porque esse governo é um desgoverno, não só em relação à Amazônia, mas em relação à Mata Atlântica. Agora mesmo, queriam abrir novamente a Mata Atlântica. É impressionante o ódio que eles têm pela natureza.
Eu nunca imaginei que depois da ditadura militar nós pudéssemos ter uma gestão pior do que a do regime militar para a Amazônia, deliberada, contra, destruidora. E para resultados pífios e econômicos, inclusive, porque o grande negócio do Brasil de hoje, esse Brasil desindustrializado do governo de Michel Temer para cá, as principais commodities são carne e grãos. E isso é prejudicado pelo assalto à natureza amazônica. Quer dizer, não é dar um tiro no pé, é dar um tiro no peito, está nesse ponto. Não que eu seja a favor de agronegócio, não interessa se agro é pop, esse anúncio idiota da Rede Globo.
Durante a ditadura militar, você foi preso pela exibição do filme “A Idade do Ouro” e teve a peça “A Zona Franca” censurada. Então, considerando todo o simbolismo da política brasileira no hoje no presente, quais são as chances dessa história se repetir?
Uma ditadura é uma ditadura. Por mais que o Bolsonaro tenha tentado dar o golpe que não deu certo, acho difícil o país voltar a sofrer uma ditadura como foi a de 1964. Para se ter uma ideia, quando eu publiquei o livro “A Expressão Amazonense”, a Assembleia Legislativa aqui se reuniu pela maioria da Arena para cassar a minha naturalidade amazonense.
Quando lancei “Galvez, Imperador do Acre”, houve polêmica na Assembleia Legislativa. Engraçado que os políticos eram mais interessados em literatura do que todos os professores de literatura naquela época. Agora o fato é que os projetos não só gerados pela ditadura militar para a Amazônia como os atuais também, gerados em gabinetes de ar refrigerado lá em Brasília, são desastrosos pela ignorância que se tem.




