Resenha: Banzeiro Òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo

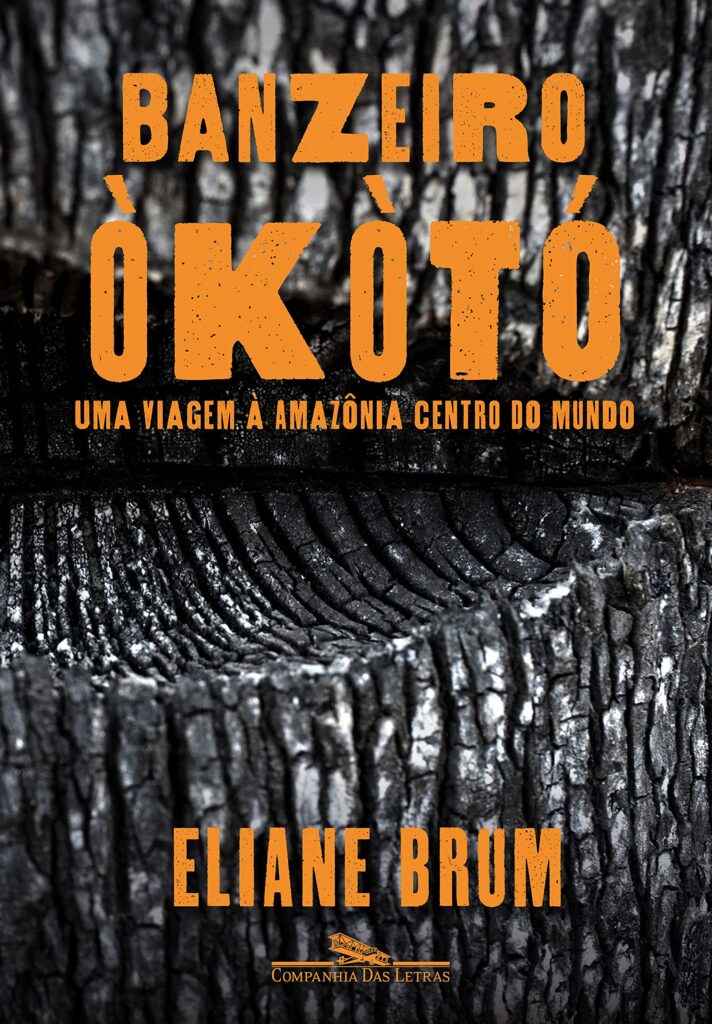
Banzeiro Òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo
Autora: Eliane Brum
Editora: Companhia das Letras
Ano: 2021
A Amazônia é hoje a fronteira onde é travado um dos principais (se não o maior) embates do mundo contemporâneo. Espelho e vítima da catástrofe climática e da sexta extinção em massa de espécies, a maior floresta tropical do mundo hospeda forçadamente um conflito entre forças de destruição – representadas pelas elites extrativistas, econômicas, políticas, intelectuais; pelos religiosos e suas igrejas, evangélicas neopentecostais na liderança; pelas grandes corporações transnacionais e pelos bilionários e supermilionários ligados a elas – e as forças da resistência, encarnadas pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais da floresta, como quilombolas e beiradeiros, além de seus aliados.
O conflito não é nada preto no branco. No entanto, este cenário pré-apocalíptico (ou trans-apocalíptico, melhor falando) foi provocado por uma minoria dominante composta dos financeiramente ricos tanto de países consumidores quanto de países consumidos. Em ambos os casos essa minoria tem cor (é majoritariamente branca), e também tem sexo e gênero (quase sempre homens, quase sempre cisgêneros).
Na Amazônia, esses bilionários e supermilionários, alimentados também pelo financiamento público, produziram um mercado de especulação de terras e um ciclo de grilagem e de pistolagem que perdura até hoje. O município de São Félix do Xingu, em 2009, precisaria ter três andares para corresponder a todos os títulos de propriedades registrados nos cartórios: com 8,4 milhões de hectares de extensão, os títulos somavam mais de 28,5 milhões de hectares. Já em Vitória do Xingu, também no Pará, os títulos registrados somam centenas de vezes a extensão do município. São os vestígios dos grandes responsáveis pela destruição da floresta e daqueles que a habitam. Como resultado, em 2019, 60% dos conflitos de terra ocorridos no Brasil tiveram como palco a Amazônia Legal e 84% das vítimas de homicídios por conflitos fundiários tombaram ali.
Essa é a principal denúncia em torno da qual a jornalista Eliane Brum tece seu novo livro Banzeiro Òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo (Companhia das letras, 2021). “Isso não acontece por acaso nem se deve ao clichê da terra sem lei, desmentido pelos fatos. Sempre houve lei na Amazônia. A questão é qual lei. E quem manda na lei”, explica. A escritora, jornalista e documentarista faz neste livro um mergulho profundo nas múltiplas realidades da floresta amazônica, denunciando a escalada de devastação que leva o planeta inteiro ao chamado “ponto de não retorno” (ou turning point), quando a crise climática não terá mais volta.
A obra, no entanto, vai além. Brum tem cerca de 35 anos de experiência em reportagem e percorre a Amazônia há mais de vinte, mas em 2017 se mudou de São Paulo para a Altamira e foi completamente transformada. Banzeiro Òkòtó mescla investigação jornalística rigorosa com relatos pessoais, se propondo ser mais que um holofote sobre um dos principais temas do século 21. É um convite, um pedido, uma demanda, uma convocação a revolucionar a forma de ver e pensar sobre o mundo.
“Banzeiro é como o povo do Xingu chama o território de brabeza do rio. É onde com sorte se pode passar, com azar não. É um lugar de perigo entre o de onde se veio e o aonde se quer chegar. Quem rema espera o banzeiro recolher suas garras ou amainar. E silencia porque o barco pode ser virado ou puxado para baixo de repente. Silencia para não acordar a raiva do rio. Não há sinônimos para banzeiro. Nem tradução. Banzeiro é aquele que é. E só é onde é.”
A jornalista começa assim o livro, contando ter sido capturada pelo banzeiro. E por ter sido capturada pelo banzeiro, desenvolveu outro ritmo, ganhou outros olhos, outros órgãos, que ocuparam integralmente seu próprio corpo e o mundo em volta. Várias vezes repete, inclusive, que a floresta não deixa esquecer nem por um segundo que somos corpo, obrigando corpo e mente, divididos pela filosofia ocidental, a se juntarem novamente.

Encontro centro do mundo. Amazônia centro do mundo, Pará. (Foto: Azul Serra/Azul Serra, COTIDIANO).
O começo é por aí, narrando como toda a sua vida se transfigurou, como Altamira virou a única parte do mundo que parece real para ela. E nem por isso tornou-se casa – o contrário. Altamira, o rio Xingu e a Amazônia lhe deram a compreensão de que não há casa enquanto o planeta estiver morrendo. Essa realidade do município paraense significa que a lucidez é um estado permanente. A cadeia de relações é curta ou nem existe, os rastros são visíveis (de garimpo ilegal, de desflorestamento irregular, de sangue, de tudo). Fingir inocência, como se pode fazer em uma cidade grande e afastada como São Paulo, é impossível.
Mas, na verdade, não importa exatamente por onde a jornalista começa. A ordem cronológica, como ela destaca, é coisa de branco – mania que fica ao lado de outras maluquices, como a de colocar fronteiras em tudo. Talvez por isso, os 35 capítulos não estão divididos em partes. Sequer estão numerados 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Depois do capítulo 100, vem o 666 e depois 13 e 5. É possível até mesmo que o livro possa ser lido fora da ordem. A narrativa é a mesma, cronológica ou não.
É um dos primeiros indícios que Brum dá de que ela já está pensando diferente, e pede que seus leitores a acompanhem. “Quero me desbranquear”, declara, mesmo sabendo “que vou morrer fracassando nessa tentativa”. Parte do motivo porque ela foi à Amazônia é para ser outra experiência de si, a partir da descolonização do seu corpo. Por meio da escuta, tentou (e tenta) permitir que “a narrativa de outre ocupe meu corpo como narrativa de outre, e não a narrativa de outre distorcida por aquilo que minhas crenças ou meus preconceitos não me permitem escutar.” (Inclusive, aparece neste trecho, assim como ao longo de toda a obra, a linguagem neutra/não binária, mais uma pista de um pensamento que destoa do hegemônico).
Para a jornalista, a destruição da floresta e de todos os povos que a habitam passou a ser a corrosão do seu próprio corpo, porque passou a se entender como floresta. Ou seja, se desbranquear é se reflorestar. Ou se amazonizar.
Mas por que passar por esse processo? Ao longo da obra, a autora bate na tecla de que não é possível enfrentar a crise climática com a mesma lógica que gestou a crise climática. “Não superaremos o maior desafio da trajetória humana neste planeta sem mudar a matriz de pensamento. Não sairemos do abismo com o mesmo pensamento que nos levou ao abismo: branco, patriarcal, masculino e binário.” Amazonizar-se é mudar a linguagem e, com ela, as estruturas do ver, do pensar, do fazer. O entendimento do próprio corpo, como realidade expandida e como floresta, tem potencial de levar à compreensão de que a luta pela floresta é a luta contra o patriarcado, contra o feminicídio, contra o racismo, contra o binarismo de gênero, contra o antropocentrismo.
“Este livro, em mais de um sentido, carrega o desejo de tornar a Amazônia uma questão pessoal para quem o lê”, enfatiza Brum. Porque não basta, como diz a frase que já foi tão repetida que quase virou lugar comum, “não ser racista, é preciso ser antirracista”. Em um artigo de 2017, a jornalista desenvolveu a ideia de existir violentamente em um país como o Brasil, ser branco e desflorestado é sinônimo de ser violento.

Canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte. (Anderson Barbosa/Amazônia Latitude)
Ela recupera a discussão no livro, afirmando que, por mais que seja duro reconhecer e sentir na pele que sua existência inteira fere os outros, assumir-me “branco” é preciso para que um estrangeiro possa entrar na Amazônia. Talvez nunca seja mais possível caber no próprio corpo, mas também é inconcebível assumir inteiramente um outro. Mesmo com todas as tentativas de aplicar um pensamento diferenciado e todos os convites ao leitor para que faça o mesmo, a obra está marcada por esse recorte identitário (o que deixa o texto ainda mais genuíno e interessante).
É péssimo sentir-se assim, como ela mesma destaca em tantos momentos. Contudo, só o mal-estar oferece alguma forma de salvação. É o que diz que algo está errado e está na hora de fazer alguma coisa. A autora recupera um outro artigo, este de 2015, em que cita a pensadora americana Donna Haraway: “É preciso viver com terror e alegria”. Terror diante daquilo que inspira mal-estar, alegria diante daquilo que inspira. Talvez por isso uma obra sobre apocalipse climático ainda permita piadas. Brum compara a si mesma e a jornalista britânica-brasileira Jan Rocha com Dom Quixote e Sancho Pança, batendo de porta em porta “para anunciar o fim do mundo como se fôssemos uma seita amazônica bizarra nascida em São Paulo”. Histórias de amor – o fim de seu casamento e nascimento de um novo amor forjado na floresta e na luta pela floresta – e a emoção de ver uma bebê tartaruga nascer e batizá-la de Alice, o nome de sua neta.
Terror para se mexer, alegria para continuar vivendo.
O que não quer dizer que a jornalista é defensora da esperança. Ao contrário. Para ela, a esperança sofreu do mesmo mal que a felicidade, convertida em produto do capitalismo, que a toma por objeto de consumo em um momento em que o futuro se desenha cada vez pior. A esperança anula o terror, tão bem representado por jovens lideranças do movimento Fridays For Future, como Greta Thunberg: “How dare you?” (“Como vocês se atrevem?”), perguntou a ativista aos líderes mundiais na Cúpula do Clima das Nações Unidas, em 2019. Naquele momento, a Amazônia era palco de queimadas que atraíram os olhos do mundo. Nem foram as maiores, mas o Dia do Fogo foi um marco para a comunicação sobre fogo na floresta, criminoso ou não. Terror, sim. Esperança, não.
Alegria? De vez em quando.
É dentro deste contexto – da branquitude frente à catástrofe climática, da necessidade de ação urgente, de necessidade de desafiar o pensamento hegemônico – que Eliane Brum propõe a Amazônia Centro do Mundo. O conceito-movimento nasceu antes do livro, sendo mais difundido quando ela discursou durante um jantar no primeiro encontro do Rainforest Journalism Fund, em Manaus, em julho de 2019. A escritora retoma: “Quando eu e outres afirmamos a centralidade da Amazônia, não estamos tentando fazer um jogo de palavras ou um apelo retórico, mas demandando um deslocamento real – ou exigindo o reconhecimento daquilo que é, mas é retratado como se não fosse. Quem determina o que é centro e o que é periferia? E por quê? Com base em quê? A disputa política sobre as centralidades é estratégica. E é imperativo retomar o centro.”
No momento em que o planeta vive o colapso climático, a floresta amazônica é efetivamente o centro do mundo. Ou, pelo menos, é um dos principais centros do mundo.
A ideia é apresentada com algumas premissas. Primeiro de que a guerra climática é uma guerra política, então é preciso deslocar o que é centro e o que é periferia, e segundo, de que deslocar a centralidade significa mudar a estrutura de pensamento. Entrar nos campos de raça, de sexo e de gênero e também no campo das espécies, estabelecendo uma aliança entre o que ela nomeia humanes-natureza (que costumam ser discriminados por animais, apesar de humanos também serem animais) e mais-que-humanes (povos da floresta, ou povos-floresta, como ela melhor coloca, trabalhando a linguagem nessa tentativa de mudar a estrutura do pensamento) contra humanes predadores. E essa é a terceira e mais importante premissa: o deslocamento, essa revolução, só vai acontecer em conjunto, em comunidade.
Citando um ensaio de Peter Pál Pelbart, chamado “Negros, judeus, palestinos: do monopólio do sofrimento” (2018), ela explica:
A filósofa alemã Hannah Arendt já dizia que liberdade não é um dado, mas algo que se constrói em conjunto. E só é possível dessa forma. Mas não é preciso emprestar o pensamento ocidental para explicar tudo isso. Os indígenas Añuu gestam a palavra Ookoto como uma das palavras-chave de seu sentipensar, que orienta sua cosmovivência. Ookoto significa algo como cortar/compartilhar, que dá uma perspectiva de compreensão daqueles que estamos (somos) como Nós, contra o “Eu” antropológico do Ocidente. Não foi daí que Brum tirou seu òkòtó, palavra na língua iorubá que designa um caracol, “uma concha cônica que contém uma história ossificada que se move em espiral a partir de uma base de pião. A cada revolução, amplia-se ‘mais e mais, até converter-se numa circunferência aberta para o infinito’. Amazônia Centro do Mundo é banzeiro em transfiguração para òkòtó.” Não é o mesmo, mas é. Uma coincidência alegre.
A autora explica que outros modos de vida são também outros modos de pensamento, e foi só ao mergulhar nesse rio de lógicas divergentes que ela se tornou capaz de entender que a catástrofe não é o fim, mas o meio. É preciso colocar corpos na Amazônia para acessar esse conhecimento pela experiência encarnada, para acessar o meio de lutar pela vida da floresta e imaginar um futuro habitável (de preferência, mais que isso).
É um caminho que passa por entender as nuances e peculiaridades desse lugar que não pertence à chamada humanidade, já que é a humanidade que pertence à Amazônia. De programas de governo construídos para combater a pobreza na cidade e acabam fabricando pobres onde havia povos-floresta, até a crença de que a vontade maior de todos aqueles que não consomem é se sentar à mesa do consumo, falta compreensão acerca do que é esse centro do mundo. A consequência é que também falta compreensão acerca do que é humanidade. Mais que reciclar lixo, usar carro elétrico ou cozinhar comida vegana, como Brum lista, o desafio é muito maior: “é preciso mudar o que é ser humane”.




